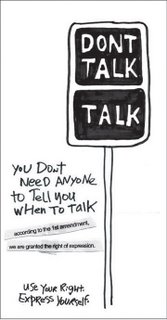Espanta Espíritos

Fernando Pessoa sabia do que falava quando escreveu que todos os poemas de amor são ridículos. Brockeback Mountain é um filme de amor logo Brockeback Mountain é um filme ridículo.
Mas - e desculpem qualquer coisinha - não é o epifenómeno que vejo por aí anunciado. É uma história de amor. Nem sequer é uma boa história de amor, se tivermos em conta outras tantas que o cinema já produziu (lembro-me por exemplo de "O Paciente Inglês" ou mesmo de "Legends of The Fall").
Se muito me não engano, o frisson em torno do filme rodado por Ang Lee, assenta todo ele na particularidade de relatar uma história de amor vivida (ainda que a intervalos espaçados) por dois homens, cowboys ainda por cima.
O atestado será para muitos uma bengala de espanto, já que a figura do cowboy foi desde sempre a do duro: John Wayne, de colt na mão e de cigarro no canto da boca, Clint Eastwood com a winchester entalada na sela do cavalo.
Mais espantoso é, ainda assim, o enternecimento bruto de quem finalmente percebe, depois de assistir em crescendo a uma história de amor na tela de um qualquer cinema (uma história que até nem é uma boa história de amor) que o sentimento, com toda a teia de afectos, de manifestações e de ridícularias pessoanas a ele inerente, a existir, existe entre seres, nunca entre géneros.
De resto, Brockeback Mountain é um filme onde se cospe muito. Onde se bebe, se fuma e se pragueja mais ainda. Um filme onde muito másculamente se transportam ovelhas ao cachaço e se derrubam veados (verdadeiros e na acepção primogénita do termo) com um único tiro. Um filme onde se fala muito de pesca e não se pesca mesmo nada. Um filme que ( como "Million Dollar Baby", o vencedor do ano passado) mostra uma outra América que existe, mais expressiva até que aquela que nos chega a casa todos os dias pelo pequeno ecrã.
De resto, o mérito maior, no que à crítica cinematográfica diz respeito, recai mesmo sobre a fotografia (mais até que na interpretação de um ou de outro dos actores). No que ao resto diz respeito, não se pode usurpar a Brockeback Mountain o feito nele mais vincado, o de funcionar como uma espécie de espanta-espíritos contra anacronismos e pudores d'ontem.
.
"Brockeback Mountain" reune oito nomeações para os oscars, entre as quais a nomeação para melhor filme, para melhor realizador, para melhor actor principal e para melhor actor secundário.
Doci, Doci...
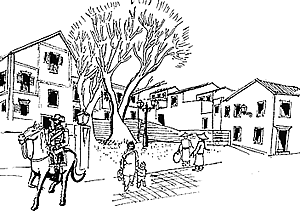
Desde ontem que também moro por
aqui. Em muito boa companhia.
China Insight (I)

Pavilhão de Tengwang, Nanchang, Província de Jiangxi
Cartoons e Encruzilhadas
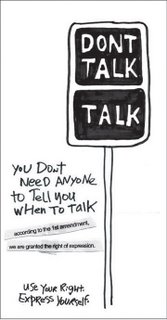
De certa forma, a crise dos cartoons que, de há algum tempo a esta parte, tem vindo a inflamar as relações ocidente - mundo islâmico e o debate de opiniões na própria Europa tem tido o ónus de descobrir essa e outras carecas: a de uma presumível falibilidade nos preceitos de tolerância que políticos, intelectuais e outros que tais querem para a Europa.
Porque a crise dos cartoons tem demonstrado que o princípio da tolerância pelo qual se regem os tolerantes, tolera tudo menos quem não tolera. Ou melhor, quem compreende. Quem compreende a fúria islâmica, mas principalmente quem teme, quem se amedronta e quem pensa que a liberdade de expressão que é, de facto, um bouquet bonito, sendo que não se sabe bem de que flores.
Passo a explicar. Costumo embirrar um bocado com a natureza das ideias. Feitas prática são uma qualquer outra coisa que não a ideia original (é como se perdessem sola e substância na caminhada longa para a concretização), servem não sei bem que interesses e sacralizam não sei bem que gestos.
De certa forma, na guerra das caricaturas do profeta, parece-me que não é tanto o direito à liberdade de expressão que está em questão, quanto a necessidade de um direito à reacção dentro da tal espaço de polida contenção em que a Europa se tornou: o credo da igualdade de direitos, da igualdade de deveres, da igualdade de oportunidades encobre com alguma agilidade mecanismos de censura e de auto-censura que nos modelam as opiniões, que as aparam, que não deixam que emitamos, em prol da igualdade, juízos ou palavras que possam ferir susceptibilidades.
A natureza de uma tal censura nem é analíticamente nova, nem impossível de ser identificada todos os dias nos jornais, na televisão ou mesmo na produção intelectual que começa a transparecer nos dias de hoje como marca da contemporâneidade. Opera na substituição de conceitos mais espinhosos e menos polidos por metáforas paliativas: é o "negro" em lugar do "preto", é a "terceira idade" em lugar da "velhice", o "aluno com necessidades educativas especiais" em vez do calão ou do idiota.
Em prol do oriflame da igualdade, respeitam-se as idiossincrassias do politicamente correcto para que se não machuque a susceptibilidade aos velhos, para que os homossexuais não embandeirem o pavilhão da discriminação, para que a universidade esteja ao alcance de pessoas que não sabem localizar a Dinamarca num mapa, para que as feministas ferrenhas possam ter hoje e sempre a liberdade de se arvorarem contra uma "sociedade profundamente machista."
A mundividência ocidental tornou possíveis sociedades fantasmáticas onde o preceito da igualdade serve sobretudo para legitimar o direito à diferença. E a diferença, não persistam dúvidas, mais que estigmatizar, enriquece.
As liberdades de expressão, de pensamento ou de prática religiosa confirmam o enriquecimento, ao assegurarem sobretudo o direito à discórdia. A própria liberdade de expressão encontra nela uma espécie de fundamento inaugural. Se as sociedades fossem blocos monolíticos e homogéneos em termos dos preceitos do pensamento, a necessidade de se salvaguardar o direito à liberdade de expressão pereceria.
Para além de contribuir para a incineração de algumas embaixadas e para atear uma espécie de bálburdia epistemológica entre os intelectuais da Europa, a crise das caricaturas parece deixar antever a fragilidade do pensamento europeu e a extremada utopia em que redunda. Ao contrário do que durante décadas os europeus foram habituados a pensar, o credo da universalidade dos direitos é perecível porque fraccionário. Cada um condiciona os direitos e as garantias da forma que melhor serve os seus interesses, uns como arma de arremesso, outros como máquina doutrinária.
Dizia Churchill que a democracia é o melhor sistema político de que dispomos. Também no que toca à questão da liberdade de expressão é melhor esta fórmula que nenhuma. Mas os extremismos, aqui, como nas ruas de Ramallah, pouco têm de bom. E por si só, legitimar toda e qualquer manifestação sob o desígnio purificador da liberdade de expressão pode ser tão sórdido como passar uma vida inteira a comer pão sem sal.
Porque a liberdade de expressão (por muito expansiva que possa ser a sua definição) como tem sido praticada aponta para uma ética sem deontologia, para a imposição imponderada como se fosse por si mesma um conjuro que se arremessa quando se faz visível a necessidade de exorcizar este ou outro problema.
Não se trata de discutir limites, antes de apontar caminhos. Se o pensamento ocidental teimar em favorecer a absolutização da liberdade de expressão, dissociando-a de conceitos como o respeito pela diferença ou o bom-senso no que respeita à sua aceitação, o pão continuará sem sal e a tendência continuará a ser a de uma progressão para o vazio, para um limbo em que a dissemelhança, em vez de sinónima de enriquecimento, se torne um factor de instabilidade.
A julgar pelo que se lê nos editoriais dos jornais e na blogosfera, a forma como a natureza da liberdade de expressão tem vindo a ser sacralizada aponta para um derradeiro perigo, que é o da substituição de uma moral judaico-cristã, aos olhos de muitos enferrujada e arcaízante, por uma espécie de moralidade laica e libertária, que em última instância assenta num único pressuposto:o do laissez faire.
O perigo reside, pois, na substituição forçada dos príncipios da liberdade de expressão e da sociedade laica por um laicismo arreigado e militante, que pretenda para si o estatuto de religião sem livro, sem templos e sem profetas. Uma religião que se transforme numa hegemonia cultural de minorias para as quais liberdade e falta de respeito pelas crenças e sentimentos religiosos - quaisquer que estes sejam - venham a ser uma e a mesma coisa.
Arca de Noé

Para dar um tom de maior naturalidade à coisa, este blog conta a partir de hoje com uma bela de uma companhia animal, o Sócrates. À falta de burro, o Prestes-João adoptou um lama. O Sócrates come como o outro, é chico-esperto como o outro e com um bocadinho de jeito e paciência até sou capaz de o ensinar a brincar aos governos (como o outro). Façam lá umas festas ao bicho! Está mesmo aqui ao lado, abaixo dos links e coisas que tais...
E a Dinamarca...

... será que também
está solidária convosco?
Às Portas do Reino
Eu, que não sou já criança nenhuma, que me mascaro de enfado todas as manhãs e relampejo mau humor pelos olhos, que me penso já um velho (não que a humidade ensarilhe os osso ou que a vista se turve muito) e que começo a agir sem a determinação de um, descobri ontem que há uma parte da infância que perdura: a do fascínio pela descoberta. Vi este filme e entusiasmei-me (acho que precisava de uma boa dose de fantasia para contrabalançar a ginástica perra dos dias). Descobri depois este outro reino. E foi como se encontrasse o mar todo dentro de um búzio.
Sonhei-te estática e ainda assim voavas.
asas de cisne, de anjo ou de gaivota
voando alto, do luar, tu me miravas
e eu desfraldava ilusões em cambalhota;
Assim foi que me encontrei um paladino
do voo raso e pardo das tuas asas
quis para nosso corpo o teu destino
de vagar, sofragando, sobre as casas,
quis que o céu por tua cor fosse meu leito,
esse arco alado e quieto fossem braços
as nuvens se transformassem em teu peito
e no meu peito cambalhotas em estilhaços.
Ao meu lado assim quieta e voavas,
compulsões de asa e a tua pele leve rumor
e na carne dos meus lábios semeavas
as primeiras letras da palavra amor.
A Judite de Sousa e eu (I)

Nunca tive nem grande lata nem grande tarimba para a graxa. Sempre que por mote próprio ou por uma qualquer imperatividade tenho que abordar amigos ou quem quer que seja com as manigâncias do elogio, a mansidão saí-me falsa e corada, como se tivesse acabado de impingir, com uma palmadinha nas costas, um falso testemunho ao próprio Deus omnipotente.
Uma vez por outra, e sempre por culpa e estupidez própria, escorrego na imbecilidade de me julgar um Don Juan do elogio e o piropo graxista sai escanzelado e pouco convincente, sempre atracado a um derradeiro sorrisinho incapaz e arrogante. Foi o que aconteceu com a Judite de Sousa.
Maio é, em Coimbra, um mês do diabo para se torrar dinheiro. O primeiro desvio pecaminoso é sempre o do arraial do delírio que é a Queima das Fitas.
Ainda hoje ninguém me consegue demover da ideia de que a existir um purgatório, ele é igual à Queima das Fitas de Coimbra, sem lâbaras de fogo e emanações de enxofre, mas com os sapatões do traje a afundar-se na lama, camaradas etílicos vestidos de batman e tipas
(a quem a cerveja domou a vergonha)
a mijar de côcoras junto ào rio.
O segundo planeta da conjugação da despesa na brisa sorrateira de Maio maduro armava-se de lona, de aluminio, de rebites e parafusos no coração da Praça da Républica, iam as calendas do mês nos seus meandros.
A tenda, que não era dada a circos, a palhaços pobres ou ricos que fossem, a leões escanzelados ou a senhoras de farripa no queixo, não deixava, ainda assim de merecer a localização central que ocupava no âmago da cidade.
Abrigava, primeiro, de uma virada os novos valores da literatura nacional, ladeados pela indiferença que se começava a votar aos valores de sempre, novas e velhas edições, os best-sellers e os que vendiam não tão bem. Depois, durante um período mais parco, os livros davam lugar a esteiras de Montemor, a presépios toscos onde a virgens se assemelhavam a matrioskas russas e a pirilaus das Caldas feitos canecas e jarras e pisa-papéis
(tomates descomunais impedindo o papel vegetal de planar janela fora)
na penumbra de cartazes de plástico onde a autarquia se definia a si mesma como paladina da defesa não só da alma, como da gente.
De forma que em Maio a Praça era para mim um pouso costumeiro, grave era a noite em que por esta ou outra ou est’outra razão não deambulava entre os saramagos e os lobo antunes, a abanar a cabeça em desmazelo pelo numero redondo de edições da nova futriquice das rebelo pinto e a remoer para comigo em sinopses breves de megalomania que num desses anos vindouros
(quanto mais envelheço mais me apercebo do quinhão de futuro que deixei para trás)
também sentaria o cu numa cadeira de vime, abaulada e intermitente em estalidos e gorgeios, com uma planície propilénica e alva pela frente, três ou quatro volumes encavalitados, insuflando um cheiro morno a celulose a um canto do tampo da mesa, uma esferografica inoxcrom
(a caneta do profissional)
a aviar, como se um doutor de estigmas literários se tratasse, assinaturas em jeito de receituário no reverso da capa do tal volume não escrito e não-inscrito, uma mão cheia de criaturas buítreas à espera de um julgamento avisado,
(“para a pequena eneida, que este livro possa conduzir a novas navegações”)
a desfazerem-se em louvores ao pragmatismo da escrita antes mesmo de folheadas as primeiras páginas e de debulhados os humores das personagens e a concluirem de lábio retorcido, como se houvessem escutado as palavras a um papagaio,
- Muito bonita a sua escrita, senhor gonçalo
ou
- Fenomenal, senhor luís peixoto
e eu, ao mesmo tempo, contente e arrabiado por lamber como melaço o mérito por livros que não escrevi e fulo das entranhas por me terem baptizado de novo com nomes outros que não o meu, a mastigar para mim mesmo, ainda que em sinopses breves de megalomania, que razão têm os velhos
(mais vale foder um “home”, do que lhe trocar o nome)
Negócios da China ...

.... até no futebol, com o Real Madrid a investir cem milhões de yuan no Beijing Guo’an. A quantia permite ao clube espanhol adquirir dez por cento dos activos do clube chinês e penetrar no mercado mais vasto do planeta.
O Sheffield United seguiu as pisadas do gigante espanhol e concretizou uma negociata ainda mais rotunda ao comprar noventa por cento do Chengdu Five Bulls, clube que milita este ano na segunda divisão do futebol chinês.
O futebol, que por estes lados ainda tem a pujança quase estóica dos jogos entre solteiros e casados das terriolas do norte (de Cipango nao é, de Portugal, claro), joga-se na China muito mais fora das quatro linhas que dentro do rectângulo de jogo.
O merchandising é no Império do Meio um negócio sério, o futebol um garante de audiências elevadas para as televisões da China, de Hong Kong e de territórios afins e a oferta é tao variada que até a série B italiana é possivel acompanhar com requintes de exclusividade.
E depois – mesmo sendo tanta a distância - há o futebol como star system, com os mesmos contornos de fanatismo, admiração e dependência que existe às portas de Anfield Road ou do Camp Nou e ainda que um Real Madrid-Barcelona se nao anuncie para tão depressa, é encontra-los, aos Beckham’s, aos Ronaldos e aos Eto’os, de olhos franzinos e rasgados, de maillot em riste, fintando hordas de turistas no Largo do Senado.